Novos Caminhos no Direito Sucessório: A Renúncia Hereditária por Pacto

As transformações nas estruturas familiares e sociais têm refletido diretamente no Direito Sucessório. Um dos avanços mais relevantes nesse cenário é o reconhecimento da renúncia ao direito hereditário por meio de pacto sucessório, tema que tem ganhado força nos debates sobre atualização do Código Civil. Em 2023, publiquei na Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões o artigo “A Possibilidade de Afastar o Direito Concorrencial do Cônjuge por Pacto Sucessório: o Outro Lado do Art. 426 do CC”, propondo novas formas de organização patrimonial e sucessória, respeitando a autonomia privada dos casais. O que são pactos sucessórios? São instrumentos contratuais que permitem aos cônjuges ou companheiros renunciar antecipadamente ao direito de herança, por meio de pacto antenupcial, contrato de convivência ou escritura pública. Essa prática traz segurança jurídica e evita conflitos futuros na sucessão de bens. Essa proposta está prevista no anteprojeto de reforma do Código Civil, que busca adaptar a legislação à realidade atual. O novo texto do Art. 426 permite expressamente que: Essas mudanças respeitam o equilíbrio contratual, resguardando a parte mais vulnerável e assegurando que a liberdade contratual não seja usada para fraudes ou imposições injustas. Por que isso importa? Os regimes de bens tradicionais nem sempre são suficientes para lidar com as complexidades da sucessão. Os pactos sucessórios surgem como alternativa moderna, transparente e eficaz para planejamento patrimonial, especialmente em famílias reconstituídas, uniões estáveis ou casamentos com significativa diferença de idade. A proposta também contribui para evitar litígios e tornar os processos sucessórios menos burocráticos e mais alinhados à vontade das partes. Conclusão A possibilidade de renúncia sucessória por pacto representa um passo importante rumo à autonomia privada e à organização patrimonial consciente. Ainda que o anteprojeto esteja em discussão no PL 04/2025, o tema já merece atenção de casais que buscam segurança e clareza quanto ao futuro de seus bens. Convido você a ler o artigo completo e a refletir conosco sobre como o Direito pode — e deve — acompanhar as mudanças da sociedade com equilíbrio, técnica e sensibilidade.
O Casamento Após os 70: STF Reconhece a Liberdade de Escolha do Regime de Bens

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que pessoas com mais de 70 anos agora podem escolher o regime de bens que desejam adotar em seus casamentos ou uniões estáveis. Antes, a lei impunha a separação obrigatória de bens, mesmo contra a vontade dos envolvidos. Essa mudança representa um importante avanço para a autonomia e dignidade da pessoa idosa. Entenda os regimes de bens Os regimes de bens definem como será a divisão patrimonial entre o casal. Os principais são: Até então, o artigo 1.641 do Código Civil obrigava que maiores de 70 anos se casassem sob o regime de separação obrigatória, com o objetivo de proteger idosos contra golpes. No entanto, o STF agora reconhece que essa imposição generalizada fere a liberdade de escolha. A nova decisão do STF No julgamento do ARE 1309642, o STF afirmou que, mediante pacto antenupcial (no casamento) ou escritura pública (na união estável), casais com mais de 70 anos podem optar por outro regime de bens, desde que haja manifestação expressa de vontade.A mudança fortalece o princípio da autonomia privada, previsto no Estatuto do Idoso, que garante liberdade de decisão e proteção contra discriminação. O futuro do Código Civil Em 2023, o Senado criou uma comissão de juristas para revisar o Código Civil. O anteprojeto de reforma entregue em 2024, e atualmente tramitando no PL 04/2025, propõe: Essa reforma, se aprovada, consolidará o entendimento de que a idade não deve limitar o direito de escolher como gerir a própria vida e patrimônio. Conclusão: Liberdade, Planejamento e Proteção A decisão do STF é mais do que uma interpretação jurídica — é um passo civilizatório. Reconhece que o idoso tem plenas condições de planejar sua vida afetiva e patrimonial com autonomia e responsabilidade.Se você ou alguém que conhece está nessa situação, nossa equipe está pronta para orientar com clareza, leveza e segurança jurídica.
Sucessão Familiar: um legado que se constrói todos os dias.

Em um cenário de rápidas transformações sociais e tecnológicas, preparar herdeiros para assumir a liderança de uma empresa familiar é muito mais do que uma troca de cargos — é um movimento estratégico.A sucessão bem-sucedida nasce do diálogo, da escuta e de um planejamento inteligente e contínuo.É olhar para o futuro com coragem, sem perder o respeito por tudo o que já foi construído.É manter viva a essência da empresa, ao mesmo tempo em que se abre espaço para inovação.Mais do que transferir um negócio, é perpetuar um legado com propósito, sensibilidade e responsabilidade. Sem planejamento, o legado corre riscos. Mesmo com toda a importância da sucessão familiar, muitas famílias ainda negligenciam o planejamento jurídico e os números refletem essa realidade: •Apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração.•Apenas 15% sobrevivem até a terceira.•Menos de 7% alcançam a quarta geração.A ausência de um plano sucessório estruturado pode gerar conflitos entre herdeiros, desorganização na gestão e, em muitos casos, a quebra do negócio. Sucessão não é apenas um ato jurídico. É estratégia, diálogo entre gerações e prevenção inteligente para garantir a continuidade com harmonia dentro e fora da empresa. A Sucessão bem feita é aquela que respeita o tempo de quem construiu, prepara com sabedoria quem irá continuar e protege tudo o que foi conquistado. Sucessão Familiar: proteger o patrimônio é só o começo. Para que a sucessão em empresas familiares seja bem-sucedida, é preciso aliar estratégia jurídica, escuta familiar e preparo organizacional. Cada família tem sua própria história, seus desafios e seus sonhos, e por isso o planejamento deve ser personalizado, preventivo e com visão de longo prazo E você, já parou para pensar na preparação dos sucessores? Quando falamos em sucessão familiar, escolher os instrumentos jurídicos certos faz toda a diferença. Eles não apenas preservam o patrimônio, mas também garantem equilíbrio, clareza e harmonia entre família e empresa ao longo das gerações. Mas atenção: não existe fórmula mágica. Cada família tem uma história, uma estrutura e uma dinâmica própria. Por isso, o planejamento sucessório precisa ser personalizado e estratégico. Você já considerou temas como: E a pergunta que não quer calar: Você está deixando herdeiros… ou preparando sucessores?
Além da vida: planejando seu legado

Sabemos que organizar o seu futuro vai além do patrimônio; é sobre cuidar do que realmente importa: as pessoas que são sua família, seus valores. Assim, o planejamento se torna uma ferramenta para consolidar o futuro de quem você ama. Fortaleça seus laços, organize seu futuro, valorize sua família. Um bom combinado não sai caro, e um futuro organizado é um legado de confiança e dedicação. Pensar no futuro é algo que todos fazemos, mas o que acontecerá depois que não estivermos mais por aqui? Diante disso, vamos falar sobre o Direito Sucessório – aquelas regras que cuidam da transferência do nosso patrimônio quando partimos, e, olha, isso vai muito além da mera divisão de bens. Se você está curioso para explorar mais sobre como moldar sua própria história pós-vida, continue com a gente. Vamos desvendar juntos como deixar uma identidade exclusiva e significativa para consolidar o futuro de quem você ama. Afinal, o futuro é uma página em branco, e a caneta está nas nossas mãos. Vamos escrever essa história juntos? Quando pensamos em direito sucessório, normalmente a mente vai para a distribuição de bens, né? Mas é super importante entender que ele engloba muito mais do que isso, indo para questões que vão além do lado financeiro. Dá para planejar coisas como a disposição gratuita do nosso corpo, reconhecimento de filhos, como queremos o nosso funeral, quem cuidará dos nossos queridos bichinhos de estimação, e até para onde vão os nossos tesouros, grandes ou pequenos. Quando alguém decide deixar registrado o seu desejo, é como se estivesse escrevendo sua própria história, após a existência terrena. Essa carta de intenções possibilita a liberdade de dizer exatamente como quer que seus bens sejam divididos entre os herdeiros e, inclusive, não herdeiros. O importante é respeitar as regras legais, claro, mas dentro desse parâmetro, a criatividade (ou a seriedade) é o limite! Então, imagine que você não expressou suas vontades por escrito. Neste caso, você está, de certa forma, confiando nas normas já estabelecidas. Isso pode funcionar bem para alguns, mas se você realmente deseja se destacar e garantir que as coisas ocorram conforme o ritmo que você teria escolhido, é importante deixar registrado o seu desejo. Entretanto, não precisa entrar em pânico! Isso apenas ressalta a importância de refletir sobre suas vontades e, se possível, registrá-las de alguma forma. Afinal, trata-se do seu legado, e a decisão sobre como deseja que as coisas se desenrolem está em suas mãos. Planejar a sucessão de seus bens é uma decisão crucial que garante a segurança e o bem-estar da sua família após o seu falecimento. Para tomar as melhores decisões e evitar problemas futuros, é altamente recomendável buscar a orientação de um advogado especialista em direito de família e sucessões.
A doação do cônjuge para terceiros e a reforma do Código Civil

[ad_1] O contrato de doação, instrumento principal das liberalidades, é um dos mais instigantes do ponto de vista de sua construção e regulação. Justamente por veicular atribuição patrimonial sem contraprestação, as possibilidades de utilização da doação no exercício da autonomia privada (no gerenciamento dos interesses econômicos e solidários) são variadíssimas. O amplo espectro de boa e má utilização do contrato de doação, chama regulações específicas, tendo em vista a sua causa, o seu conteúdo ou as partes do contrato. Bem por isso o legislador se preocupa com diversas modalidades de doação, como, por exemplo, a doação com cláusula de reversão, a doação universal, a possibilidade de revogação da doação por ingratidão do donatário, a doação como instrumento de adiantamento da herança, a doação inoficiosa etc. Proíbem-se, total ou parcialmente, diversas modalidades de doação, considerando-as inválidas ou ineficazes. Uma destas hipóteses chama a atenção, por razões sensíveis (envolve as relações afetivas) mas também por sua construção jurídica. Trata-se da antes chamada “doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice”, tida como inválida pelo artigo 550 do Código Civil. Em poucas palavras, a lei diz que não vale a doação de pessoa casada, para alguém com quem teve relação adulterina. A preocupação do legislador em proteger patrimonialmente a família constituída legalmente diante de relações espúrias já era prevista no artigo 1.177 do Código Civil de 1916, cuja redação foi praticamente repetida no art. 550 do Código Civil de 2002: “Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal.” O dispositivo, tanto em 1916 como em 2022 (melhor seria dizer em 1975, quando o projeto do Código Civil foi encaminhado ao Poder Legislativo) tinha alvo firme: para o bem da família, ainda que o cônjuge tivesse pleno poder de disposição (basta pensar num bem móvel de propriedade exclusiva de um cônjuge) ele não podia fazer doação para aquele com quem tivesse praticado – ou praticasse – adultério. A norma revela uma determinada concepção da família (no caso, a família matrimonial), uma preocupação de gênero (ainda que se aplicasse para o adultério da mulher, evidentemente mirava o adultério do marido), e a criminalização da infidelidade (adultério já foi considerado crime). A quaestio envolvida na proibição de doação em tal circunstância era complexa. Bem por isso dizia SERPA LOPES, em 1991, que “Este dispositivo envolve uma parte do problema das liberalidades entre amantes, o que por si só já justifica uma monografia a respeito”1. O dispositivo, tal qual escrito (diga-se: reproduzido do Código anterior), prestava-se a uma série de dúvidas interpretativas, decorrentes dos avanços sociais e da necessidade de aplicá-lo na atualidade. Três exemplos de dúvidas que surgem na sua aplicação: – a invalidade aplica-se apenas ao casamento (a lei fala em “cônjuge”) ou também à união estável? – o que se considera adultério (exige relação sexual com terceiro ou apenas relação afetiva? Aplica-se ao “adultério virtual?) – o art. 550 prevalece sobre o artigo 1.642, V do Código (que fala da faculdade de o cônjuge reivindicar bens doado ao concubino)? Além de ser de uma constitucionalidade duvidosa2 a redação do artigo 550 do Código Civil merece críticas. Como disse Flávio TARTUCE, “Na verdade, o art. 550 do CC é polêmico, parecendo-me a sua redação um verdadeiro descuido do legislador, um grave cochilo”. Pois firme no propósito de atualizar e tornar mais operável a legislação civil, o reformador propõe alteração no dispositivo. A sugestão de redação é: “Art. 550. A doação de pessoa casada ou em união estável a terceiro com quem mantenha relação na forma do art. 1.564-D pode ser anulada pelo outro cônjuge ou convivente, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal ou a união estável.” Vê-se bem que a lógica da vedação e suas linhas mestras continuam. A doação será inválida, o prazo decadencial para pleitear a anulação é de 2 anos e os legitimados são o cônjuge e os herdeiros necessários. Mas, agora, o dispositivo (a) refere a união estável (a proibição, acertadamente, não se dirige apenas à família matrimonial), (b) afasta-se do adultério como tipo civil e (c) concatena-se com o tratamento dado ao antigo concubinato (expressão que deve ser defenestrada da ordem jurídica, mas é aqui utilizada por razão didática). O artigo 1.564 projetado cuida da união estável3 e a sua letra D dispõe: “Art. 1.564-D. A relação não eventual entre pessoas impedidas de casar não constitui família. Parágrafo único. As questões patrimoniais oriundas da relação prevista no caput serão reguladas pelas regras da proibição do enriquecimento sem causa previstas nos arts. 884 a 886.” O reformador então, enfrenta o problema das uniões paralelas, para reconhecer que elas não constituem família, que podem gerar demandas patrimoniais, as quais serão atingidas pelas regras do enriquecimento sem causa. Por fim, a nova redação do dispositivo afasta-se do adultério como um tipo civil, facilitando sua aplicação, na medida em que a conceituação do art. 1.564 é mais objetiva. Fatalmente situações fáticas imprevistas acontecerão, obrigando o julgador a adequar a normativa a cada caso concreto, em verdadeira criação da norma pela interpretação. Ademais, há que se aguardar o resultado do processo legislativo. De qualquer maneira, o tema, muito sensível como foi dito acima, foi objeto de atenção do reformador, e mostra a preocupação em destravar o direito sem descurar de sua sistematização. 1 Miguel Maria de SERPA LOPES. Curso de Direito Civil, vol. III, Rio de Janeiro, Freitas Bastos: 1991, p. 374-375. 2 Paulo LOBO. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraivajur, 2021, p. 301. 3 Art. 1.564-A. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, mediante uma convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida como família. Epa! Vimos que você copiou o texto. Sem problemas, desde que cite o link: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/407140/a-doacao-do-conjuge-para-terceiros-e-a-reforma-do-codigo-civil [ad_2] Source link
Tutela externa do crédito e o aliciamento de atleta profissional por entidade desportiva diversa da contratante: Diálogo do Código Civil com a Lei Pelé

[ad_1] Terceiro cúmplice na relação contratual e a exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais Um dos princípios1 individuais dos contratos é o da relatividade dos efeitos contratuais2 (res inter alios3), ou seja, o contrato produz efeitos entre as partes. O terceiro é aquele “que não participa do negócio jurídico, para quem a relação é absolutamente alheia”.4 Noutros termos, a “posição jurídica do terceiro assenta-se em um alheamento material e formal a determinada e particular relação jurídica”.5 Desse modo, em regra, o contrato firmado entre dois contratantes não afeta aquela pessoa que não contratou. Existem hipóteses nas quais há uma maior proximidade de um não contratante daquele contrato no qual não faz parte, como exemplifica Otávio Luiz Rodrigues Júnior: “O sucessor, o credor quirografário, o accipiens hipotecário diante do devedor que aliena a coisa dada em garantia, o terceiro a favor de quem se constituiu estipulação, o locador em face do locatário que subloca o imóvel, o fiador superveniente, o cedido na cessão de crédito, o devedor ante o terceiro sub-rogado e, por derradeiro, o gestor de negócios são exemplos de pessoas que normalmente figurariam como terceiros, muitos até recebem essa denominação, entretanto ostentam um tal nexo com a relação jurídica específica que mais se assemelham a satélites em derredor aos planetas: não se encontram na atmosfera destes, mas gravitam com tal proximidade a sua órbita, que não podem deixar de influir ou de ser influenciados por aquela.6” Além disso, existem hipóteses legais em que o terceiro é atingido diretamente pelo contrato que não é parte: (i) a responsabilidade dos(as) herdeiros(as) do(a)contratante (Código Civil – CC, art. 1.792); (ii) a promessa de fato de terceiro (CC, arts. 439-440), como na promessa do produtor de um show para que um terceiro (cantor) realize o show, o contrato de transmissão de jogos de futebol,7 entre outros; (iii) a estipulação em favor de terceiros (CC, arts. 436-438), por exemplo, o contrato de seguro de vida, no qual o terceiro consta como beneficiário e o contrato é firmado entre a seguradora e o segurado;8 (iv) contrato com pessoa a declarar (CC, .arts. 467-471), como o contrato preliminar;9 (v) a ideia de consumidor por equiparação ou bystander posta nos arts. 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por exemplo, como se vê no Enunciado 47910 da Súmula do STJ; (vi) a função social do contrato (CC, arts. 421 e 421-A), como aponta o Enunciado 21 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF): “a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito”.11 A função social do contrato como fundamento da tutela externa do crédito é controversa na literatura jurídica brasileira,12 como se exporá em outro tópico deste artigo; (vii) com a boa-fé objetiva;13 (viii) da responsabilidade por ato ilícito ou abusivo (STJ – RESP 2.023.942/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022); (ix) publicidade de registros notariais, documentais ou de títulos;14 (x) fraude contra credores e demanda revocatória falimentar. O contrato pode ter efeito sobre terceiros, mesmo que não haja a intenção de prejudicar terceiros, como aponta Otavio Luiz Rodrigues Júnior: Muita vez, os efeitos reflexos ocorrem sem que os contraentes os desejem ou os tenham previsto, porém suas conseqüências sobre o terceiro apresentam-se de modo inevitável, revelando que sua relatividade será mais ampla que o próprio desejo dos declarantes. 57 Posteriormente, com o desenvolvimento das relações contratuais de massa e do direito do consumidor, passou-se a admitir a figura do contrato em prejuízo de terceiro, assim entendido o que produz prejuízo reflexo a terceiros, mesmo sem ser essa a intenção dos declarantes. 58 São exemplos dessa espécie a formação de cartéis entre fornecedores para impedir a redução de preços ou para controlar sua majoração, bem assim contratos destinados a repartir faixas de mercado, limitar a concorrência e prejudicar o interesse dos consumidores, que se colocam como terceiros em face de tais pactos. 59 Segundo Vincenzo Roppo (2001:565), a nulidade desses contratos em dano a terceiro não depende de uma violação do princípio res inter alios acta, mas da ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.15 Esclarece-se que o CDC, nos arts 3º, 7º, 12, 14 e 25, estabelece uma “solidariedade legal entre agentes econômicos diversos, cujos efeitos dimanam sobre a responsabilidade pelo produto ou serviço, em regra, de caráter objetivo (arts. 12, 14 e 25 do CDC”).16 Delimitado os pontos sobre a eficácia perante terceiros de contratos nos quais não são partes, passa-se ao tópico seguinte a abordar da tutela externa do crédito, a fim de aferir, no último tópico, se o art. 608 do CC e o art. 28 da lei 9.615/98 (Lei Pelé) são exemplos de tal instituto e se podem ser aplicados cumulativamente pela entidade desportiva contra o atleta profissional e contra a entidade desportiva que o auxiliou na quebra do contrato antes do tempo combinado. Há , também, a hipótese de tutela externa do crédito prevista no art. de 209 da lei 9.279/96 (concorrência desleal em negócios jurídicos de comércio alusivos à propriedade industrial),17 que não será objeto de análise neste artigo. Clique aqui e confira a íntegra da coluna. 1 Entende-se que os princípios são deontológicos, parâmetros interpretativos que fundam as normas jurídicas (resultado da interpretação do texto no contexto de aplicação) e operam no código jurídico/antijurídico, pois significam a incorporação jurídica do mundo prático ao Direito, sendo instituidor da regra jurídica. “Uma regra só pode ser aplicada a partir de um ou mais princípios, e um princípio sempre será aplicado por meio de uma regra (…) Se a regra não fosse porosa, bastaria sempre a subsunção. Por isso, sempre será necessária a presença de um ou mais princípios para a sua interpretação. Mesmo nas situações (ou nas que são consideradas) mais claras, pelas quais uma regra pode abarcar determinada situação fática, ainda assim haverá a
Contrato de seguros na revisão e atualização do Código Civil brasileiro

[ad_1] Introdução A Victor Hugo, um dos mais importantes escritores do século XIX, é atribuída a frase “nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo“, que tem características românticas e políticas como o próprio autor que além de escritor foi deputado e, combateu duramente a pena de morte em seu país. A Comissão de Revisão e Atualização do Código Civil instalada pelo presidente do Senado da República em agosto de 2023, presidida pelo ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, e que tem como relatores dois dos maiores juristas contemporâneos, prof. dra. Rosa Maria de Andrade Nery e prof. dr. Flávio Tartuce, é com toda certeza uma ideia que chegou no tempo certo. Desde a entrada em vigor do CC/02, em janeiro de 2003, surgiram projetos, comentários, propostas, sempre com objetivo de atualizar o texto de lei e, revisar equívocos involuntariamente cometidos no processo de discussão e aprovação. É possível afirmar que havia consenso entre os civilistas brasileiros de que o projeto aprovado em 2002 nasceu com ares de meados do século XX, insuficiente, por isso mesmo, para dar conta das grandes transformações que as diferentes sociedades têm vivido no século XXI, em especial, nas áreas econômica e social. Assim, a constituição de uma Comissão de Juristas para revisar e atualizar os diferentes capítulos do Código Civil foi uma ideia no tempo certo, porque ao desejo de mudança que já existia desde 2002 se somou a experiência acumulada nesses 21 anos de vigência da lei civil com as decisões dos tribunais estaduais, dos tribunais superiores, dos instigantes debates das Jornadas do Conselho Federal de Justiça, do CNJ, e pelo trabalho dos doutrinadores que exaustivamente pesquisaram, escreveram, atualizaram, compararam com o direito civil de outros países, e publicaram livros e artigos ao longo de todos esses anos. É preciso ponderar, no entanto, que um código precisa ter linha lógica, fios condutores que permitam organicidade, interpretação sistemática e coerente. E, nesse sentido, a Comissão de Juristas tomou a decisão de manter integralmente os princípios que orientaram o Código de Miguel Reale: a sociabilidade, eticidade e operabilidade, que ao longo dos últimos 21 anos se mostraram de enorme relevância no trato com a interpretação e aplicação do direito aos casos concretos oriundos da hipercomplexidade que, na atualidade, caracteriza a sociedade em que vivemos. Não se trata de uma reforma do Código Civil, de uma lei nova, mas sim de um criterioso e cuidadoso processo de revisão e atualização, sem desprezar as diretrizes que orientaram o trabalho dos juristas que nos antecederam. 1. Contratos de seguro no Código Civil O tratamento do CC/02 aos contratos de seguro teve aspectos inovadores. O contrato foi definido como instrumento para garantir ao segurado mediante o pagamento do prêmio seu interesse legítimo sobre pessoas ou coisas, contra riscos predeterminados. No Código Civil de 1916 a definição caracterizava o contrato como instrumento que obrigava o segurador a indenizar, herança do Código Civil italiano de 1942, porém, inadequada para definir corretamente a principal obrigação que o segurador assume nesse contrato bilateral, além de inaplicável para os contratos de seguro de pessoas. A responsabilidade de garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados que possam atingir bens ou pessoas, reforça a ideia do mutualismo como elemento essencial que alicerça os contratos de seguro. Afinal, para garantir é preciso organizar e administrar e esse é, exatamente, o principal papel do segurador na constituição do fundo mutual de onde sairão os recursos necessários para o pagamento das indenizações quando e se necessárias. Apesar dessa inovação e de algumas outras pontuais, o CC/02 não abordou temas que àquela época já eram relevantes para segurados e seguradores. Por essa razão, a Comissão de Juristas buscou revisar artigo por artigo do capítulo XV à luz da construção jurisprudencial e, a partir da contribuição dos enunciados das jornadas e do trabalho dos doutrinadores. Além disso, há um minucioso trabalho de integração e adequação do Capítulo XV, dos Contratos de Seguro, às normas da Parte Geral do Código Civil, da Parte Geral dos Contratos e, em especial, ao novo capítulo sobre Direito Digital que integrará o Código Civil cujo projeto está sendo construído. O novo capítulo XV cuida, ainda, de ressaltar sempre que necessário, a prevalência da lei especial federal de proteção do consumidor, a lei 8.078/90, o CDC, na aplicação aos contratos de seguro denominados como massificados, ou seja, aqueles em que há um consumidor na condição de contratante ou, mais especificamente, de aderente às condições prefixadas pelo segurador. Acesse o resto da coluna clicando aqui. ___________________________________ Este artigo também foi publicado no site foi publicado no site do Migalhas. É possível acessá-lo clicando aqui. [ad_2] Source link
Um projeto de Código Civil: reformar é preciso! Notas sobre os vícios redibitórios – Parte I

[ad_1] I – Uma possível introdução Um dos versos mais declamados em língua portuguesa, inclusive por quem não é afeto à leitura de poemas, “navegar é preciso, viver não é preciso”, faz parte de um dos muitos sonetos do genial Fernando Pessoa. Nascido em Lisboa no ano de 1888, no Largo do Teatro de São Carlos, Pessoa se é sem dúvida um dos mais aclamados poetas do mundo lusófono. Notabilizou-se por seus heterônimos: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis etc e até hoje é leitura obrigatória nas escolas não só pela beleza e qualidade de seus versos, mas pela riqueza de detalhes históricos que sua obra contém. Para sermos honesto, a frase não é de autoria de Fernando Pessoa. Plutarco, que viveu no Século I antes de Cristo, atribui a frase ao general romano Gnaeus Pompeius Magnus [1] (navigare necesse, vivere non est necesse) que a teria proferido a frase quando embarcava para Roma com grãos essenciais à alimentação do povo e uma tormenta se abateu sobre a frota. Evidentemente, diante da situação em que a frase é mencionada, “preciso” só pode ter um significado, que é necessário. Navegar é necessário para que os grãos cheguem ao povo romano. Por mais encantadora que seja uma outra possível leitura pela qual os portugueses, conhecedores exímios dos mares (assim como eram os romanos com relação ao mar Mediterrâneo que chamavam de mare nostrum) achariam a navegação precisa por ser certa, exata, sem erros, sem surpresas; enquanto a vida, ao contrário, é sempre imprevisível e cheia de intempéries, não é esse o sentido do adjetivo na poesia de Pessoa. O poeta afirma que “Viver não é necessário; o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande”. Logo, a ideia não era de precisão, de certeza. Não se tratava de precisão matemática e sim de uma necessidade. Reformar o Código Civil é preciso, necessário, por força das inúmeras mudanças que o mundo e em especial o Direito passou nesses últimos 20 anos. A necessidade de incorporação das mudanças que o direito pessoal de família sofreu é realmente óbvia. Se lermos o direito pessoal de família e a intepretação dos Tribunais, vê-se que a lei não está, nem de perto, refletida na leitura jurisprudencial. A questão das novas tecnologias e seus efeitos para o direito das obrigações não poderiam deixar de ser incorporadas aos sistemas. Aliás, a tão falada herança digital é tema que compete ao Código Civil tratar. Agora, se sobra necessidade, problema temos com a precisão no sentido de exatidão. O desafio da Comissão, da qual honrosamente faço parte, é se desincumbir do ônus de alterar a lei espetacularmente pensada por Juristas simplesmente geniais, com precisão, exatidão, para que o sistema seja aprimorado. II – Os vícios redibitórios na reforma do CC Vejamos o texto atual e o sugerido pela subcomissão de contratos. a) Art. 441 do CC O primeiro ponto que se nota é que o projeto opta por utilizar “vício oculto” no texto da lei e não “redibitório” como está no título da Seção V. Faz bem. Redibição é um efeito do vício oculto, mas não o único já que, ao invés de se devolver a coisa (recebendo o valor eventualmente pago de volta), o adquirente pode optar pelo abatimento do preço (ação estimatória ou quanti minoris). Suprime-se a palavra defeito, pois era redundante. Se há defeito, há vício e se há vício é porque há defeito. Utiliza-se a expressão “obrigação de garantia” e esta menção não gera nenhum efeito prático. Nada muda por ser uma obrigação de garantia. Contudo, também não prejudica em nada a lógica do sistema. Há uma alteração de alcance da norma, pois o Código Civil determina sua aplicação às doações onerosas sendo que a reforma restringe às doações com encargo. Mas há outras doações onerosas que não a doação com encargo? Sim, as doações remuneratórias, as doações em contemplação do merecimento do donatário (art. 540 do CC), por exemplo, são onerosas, mas não contém encargo. O parágrafo 2º assim menciona: “A transferência do bem pode referir-se à posse”. A regra é também não é imprescindível, mas não prejudica o sistema. Dá clareza para contratos comutativos como a locação em que somente a posse é transferida. O parágrafo § 3º determina que “Os vícios ocultos de que trata o caput já devem ser existentes, mas não manifestados ao tempo da aquisição”. Perfeita a regra. Decorre da própria definição de vício oculto e de sua distinção para vício aparente. Se o vício se manifestou, oculto não é. a) Art. 441 – A O artigo é uma inovação. Tem a seguinte redação: “Art. 441-A. O transmitente não será responsável por qualquer vício do bem se, no momento da conclusão do contrato, o comprador sabia ou não podia ignorar a sua existência, consideradas as circunstâncias do negócio no momento da aquisição. Parágrafo único. Se a identificação do vício demandar preparação científica ou técnica, deve-se levar em consideração se, diante da qualificação do adquirente, de sua atividade profissional, ou da natureza do negócio, era seu ônus buscar elementos técnicos que permitissem aferir a presença ou não de vícios”. O dispositivo segue com a distinção entre vício aparente e vício oculto. Será aparente o vício se o adquirente sabia da existência (foi informado pelo alienante ou um terceiro, por exemplo) ou deveria saber (por exemplo o preço do bem é tão ínfimo que só pode ter um defeito). O termo adquirente é preferível a comprador. Novamente, o parágrafo mostra que o standard do “homem médio” não é sempre o utilizado para a distinção entre vício oculto e aparente. Um mecânico que compra um carro, um veterinário que compra um animal, um dentista que compra objetos de uso profissional etc. Aqui temos uma situação de qualificação do adquirente que exige dele maior cuidado na celebração do contrato comutativo. Eu chamaria de adquirente qualificado em razão de seus conhecimentos. Não se trata mais de um adquirente “em abstrato”, mas sim em
Pacto sucessório e a reforma do Código Civil

[ad_1] Como amplamente divulgado, a presidência do Senado Federal institui – sob a presidência do Ministro Luis Felipe Salomão e relatoria dos professores Rosa Maria de Andrade Nery e Flávio Tartuce – Comissão de Juristas à qual foi atribuída a missão de atualizar e reformar o Código Civil brasileiro. A Comissão tem dado aos seus trabalhos amplíssima divulgação. A presidência da Comissão oficiou inúmeras instituições dedicadas ao Direito em geral e ao Direito Civil em especial para que apresentassem suas sugestões de aprimoramento do Código Civil. A Comissão vem organizando diversas audiências públicas para ouvir professores, advogados, juízes, defensores etc. Ademais, tornou pública a compilação dos pareceres das diversas subcomissões, de modo que qualquer interessado pode acessar o site do Senado Federal, ler os pareceres e apresentar considerações dirigidas aos membros da Comissão ou mesmo publicar artigos e ministrar aulas e palestras com sugestões de aprimoramento do texto atualmente vigente ou daqueles – ainda provisórios, insisto – constantes dos pareceres. A comunidade jurídica tem a oportunidade e, permito-me dizer, o dever moral de apresentar suas contribuições para que tenhamos o melhor Código Civil possível. Se é verdade que criticar as alterações depois de elas entraram em vigor é um direito, fazê-lo sem ter apresentado sugestões de aprimoramento enquanto isso é possível é despundonor. Dito isso, na qualidade de membro-consultor da Comissão de Juristas, quero aproveitar o espaço gentilmente concedido pelo Migalhas para tratar dos chamados pactos sucessórios, designadamente para apresentar à comunidade jurídica minha opinião sobre qual seja o Livro mais adequado do Código Civil para constarem eventuais exceções à proibição dos pacta corvina e para apontar algumas objeções à proposta apresentada pela subcomissão quanto ao tema. Um código de leis, qualquer um, é “uma ordem conjetural de problemas”, como precisamente definiu Miguel Reale em seu “O Direito como Experiência“, obra que reputo das mais importantes sobre teoria do Direito. O encadeamento adequado das disposições normativas é, portanto, condição necessária para que um conjunto de artigos, incisos, parágrafos e alíneas forme um Código. Durante o estágio de pós-doutoramento que o professor Flávio Tartuce e eu cursamos sob a supervisão do professor José Fernando Simão, tivemos, os três, ocasião de estudar com profundidade o tema dos pactos sucessórios e entendemos por bem apresentar ao Senador Rodrigo Pacheco proposta de alteração do Código Civil. A proposta que apresentamos acrescentava seis parágrafos ao artigo 426 do Código Civil; foram elas: Art. 426. (…). § 1º. Os cônjuges podem, por meio de pacto antenupcial, e os companheiros, por meio de escritura pública de união estável, renunciar reciprocamente à condição de herdeiro do outro cônjuge ou companheiro. § 2º. A renúncia pode ser condicionada às hipóteses de concorrência com descendentes ou com ascendentes. § 3º. A renúncia pode ser condicionada, ainda, à sobrevivência ou não de parentes sucessíveis de qualquer classe, bem como de outras pessoas, nos termos do artigo 1.829, não sendo necessário que a condição seja recíproca. § 4º. A renúncia não implicará perda do direito real de habitação previsto no artigo 1831, salvo expressa previsão dos cônjuges ou companheiros. § 5º. Quaisquer outras disposições sucessórias que não as previstas nos parágrafos anteriores, sejam unilaterais ou bilaterais, ocorrendo em pacto antenupcial, instrumento público ou particular firmados por cônjuges ou companheiros, são nulas. § 6º. A renúncia será ineficaz se no momento da morte do cônjuge ou companheiro o falecido não deixar parentes sucessíveis, segundo a ordem de vocação hereditária. As justificativas – cuja íntegra omito pelo bem da brevidade – concentraram-se na possibilidade de os cônjuges e companheiros disporem de autonomia privada para planejarem sua sucessão, sem prejuízo da proteção ao importantíssimo direito real de habitação. As exceções ao artigo 426 foram postas no próprio artigo, por meio do acréscimo de parágrafos, seguindo o que dispõe a Lei Complementar n. 95/98 em seu artigo 11, III, alínea c, verbis: Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: (omissis) III – para a obtenção de ordem lógica: (omissis) c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida. A subcomissão responsável pela revisão e reforma do Livro V do Código Civil (direito das sucessões) sugeriu que a disciplina dos pactos sucessórios constasse do Livro V da Parte Especial e criou regime jurídico muitíssimo inovador. Apresento, a seguir, a proposta da subcomissão em itálico e, a cada dispositivo, minhas considerações. Art. 1.790-A. Há sucessão contratual quando, por contrato, alguém renuncia à sucessão de pessoa viva ou dispõe sobre a sua própria sucessão. A expressão sucessão contratual tem já um significado preciso que é o decorrente da transmissão da posição contratual de uma parte a algum terceiro. Por exemplo, a cessão da posição de locatário ao adquirente do ponto comercial. O que a subcomissão pretendeu fazer foi criar um contrato que possa tratar amplamente da sucessão de pessoa viva, e não apenas da renúncia à qualidade de herdeiro. Quando o dispositivo inclui a frase ou dispõe sobre a sua própria sucessão parece permitir que haja algo como um “contrato testamentário”, numa importação, a meu ver, imprópria do § 1941 do BGB (Código Civil alemão); imprópria na medida em que absolutamente estranha à tradição jurídica nacional e, ainda, incompatível com o regime jurídico da sucessão testamentária. Para apontar apenas uma das inconveniências da sugestão, basta dizer que a existência de uma sucessão contratual (o melhor seria contrato de sucessão ou contrato sucessório), por coerência lógica, teria de implicar a revogação de testamento anterior incompatível com o contrato e a ineficácia de testamento posterior que o contrariasse. § 1º. É válida a doação, com eficácia submetida ao termo morte. O dispositivo consagra algo que a melhor doutrina já admite e, portanto, é de se louvar. Não obstante, o seu local adequado é entre os dispositivos que formam o regime jurídico do contrato de doação, até porque a doação sob termo morte – ou à causa de morte – é contrato
Panorama do Direito Contratual brasileiro em 2023
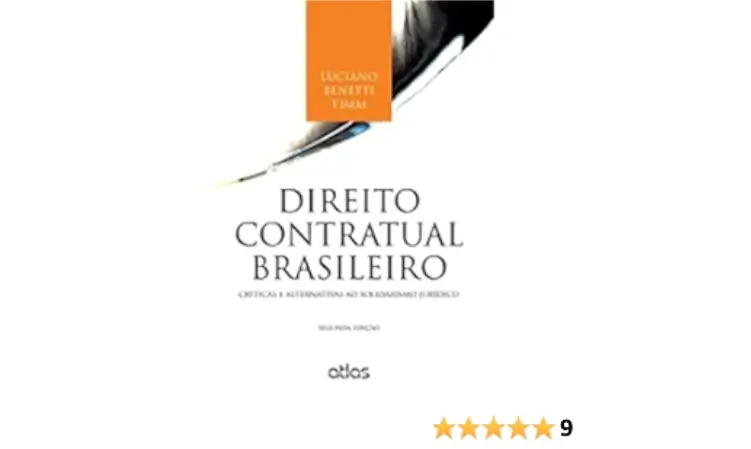
[ad_1] O ano de 2023 foi significativo para o Direito Contratual Brasileiro, uma vez que mudanças ocorreram e modificações no Código Civil se avizinham. Isso porque, do ponto de vista legislativo, três importantes leis foram promulgadas, quais sejam: lei 14.620/2023 (Programa Minha Casa, Minha Vida), lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias) e regulatório com o Código Nacional de Normas e Regulamentação da Adjudicação Compulsória Extrajudicial pelo CNJ (Provimento CNJ n.º 150/2023). A lei 14.620/2023 trata do Programa Minha Casa, Minha Vida e alterou critérios postos no programa Casa Verde e Amarela, com o intuito de “promover o direito à cidade e à moradia de famílias residentes em áreas urbanas e rurais“, na forma do art. 1º da lei 14.620/2023. Saliente-se que “além de promover o direito e ampliar a oferta à moradia para famílias com determinadas rendas preestabelecidas, seu objetivo também é promover o desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, de forma sustentável, mitigando vulnerabilidades e prevenindo riscos de desastres, gerando trabalho e renda, elevando padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população”. 1 Do ponto de vista contratual, para além da utilização dos contratos para promover os objetivos legislativos postos nos arts. 2º, 3º e 4º da lei 14.620/2023, tal lei permite: (i) que a União doe ou aliene, de forma gratuita ou onerosa, bens imóveis (lei 14.620/23, art. 6º XII); (ii) majoração do direito de construir (lei 14.620/23, arts. 4º e 6º, § 13, XII), mediante contratos de prestação de serviços e (ou) empreitada; (iii) fortalecimento do contrato de financiamento obtido com recursos do FGTS ou “em condições equivalentes às do Sistema Financeiro da Habitação, em qualquer parte do País” (lei 14.620/2023, art. 9º, I); (iv) prioridade aos “contratos e os registros efetivados no âmbito do Programa serão formalizados, prioritariamente, no nome da mulher e, na hipótese de ela ser chefe de família, poderão ser firmados independentemente da outorga do cônjuge, afastada a aplicação do disposto nos arts. 1.647, 1.648 e 1.649 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) (lei 14.620/2023, art. 10); (v) estabelecimento de direito resolutório da relação contratual em caso de descumprimento pela família beneficiária (lei 14.620/2023, arts. 12 e 32); (vi) respeito e tutela aos contratos firmados entre o Estado e as concessionárias de energia elétrica (lei 14.620/2023, art. 13); (vi) previsão de condições gerais contratuais obrigatórias (lei 14.620/2023, art. 13); (vii) respeito à função social do contrato, via tutela do direito à moradia, respeito às mulheres, as pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade (lei 14.620/2023, arts. 8º, 16, 33 e 40) e da função ambiental do contrato pelo fomento à edificações sustentáveis ambientalmente, inclusive com subsídios públicos (lei 14.620/2023, arts. 13, 16, 32 e 33); (viii) fomento da locação em área urbana e do arrendamento em área agrária “de parcela do imóvel não prevista para uso habitacional, bem como a alienação de unidades imobiliárias, desde que o resultado auferido com a exploração da atividade econômica reverta-se em benefício do empreendimento” (lei 14.620/2023, art. 14); (ix) fomento do contrato de seguro obrigatório para os empreendedores na “produção de unidades imobiliárias novas em áreas urbanas” (lei 14.620/2023, art. 15); (x) facilitação para financiamento para os projetos de interesse social “nas áreas de habitação popular, inclusive regularização fundiária e melhoria habitacional, sendo permitido o financiamento nas áreas de saneamento e infraestrutura, desde que vinculadas aos programas de habitação, bem como de equipamentos comunitários” (lei 14.620/23, art. 26); e (xi) facilitação à utilização dos imóveis produzidos com “recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) poderão ser destinados por cessão, doação, locação, comodato, arrendamento ou venda, em contrato subsidiado ou não, total ou parcialmente, para pessoa física ou jurídica, conforme regulamentação do Ministério das Cidades, sem prejuízo de outros negócios jurídicos compatíveis” (Lei n.º 14.620/23, art. 29). Outros pontos positivos como os relacionados à desapropriação ultrapassam o escopo deste texto. A lei 14.711/2023 cuidou do aprimoramento das garantias e outros temas, sendo relevante destacar que o IBDCONT apresentou Nota Técnica, 2 que teve grande impacto para a elaboração da lei, como as críticas ao instituto das instituições gestoras de garantia (IGG) e aquela relacionada a mais uma hipótese de penhorabilidade do bem de família, entre outros pontos, tendo sido mantido o contrato de gestão de garantias, sendo relevante refletir sobre o tema a partir da construção da literatura jurídica, como, por exemplo: 1. É cabível subalienações fiduciárias em garantia, também chamadas de alienações fiduciárias sucessivas (art. 22 da lei 9.514/1997). 2. Nas subalienações fiduciárias em garantia, os credores fiduciários de segundo ou mais graus serão titulares de um direito real de propriedade sujeito a duas condições: (i) a condição resolutiva consistente no adimplemento da respectiva dívida garantida; e (ii) a condição suspensiva consistente na extinção da propriedade fiduciária de grau inferior (capítulo IV.1.1.). 3. Apesar do silêncio da Lei das Garantias, entendemos que as subalienações fiduciárias em garantia de bens móveis são plenamente admissíveis, porque a alienação de coisa futura é permitida pelo nosso ordenamento, especialmente pelo art. 483 do CC. O outro caminho que chegaria a resultado prático similar é a realização de cessão fiduciária (que pode ser sucessiva) do direito real de aquisição pelo devedor fiduciante (capítulo IV.1.2.). 4. Na subalienação fiduciária em garantia, a cláusula cross default precisa estar consignado no instrumento constitutivo e não se opera automaticamente: depende de manifestação do credor na intimação do procedimento executivo extrajudicial (capítulo IV.1.3.). 5. Penhoras e alienações (fora da alienação fiduciária) não devem recair sobre a propriedade superveniente, e sim sobre o direito real de aquisição do devedor fiduciante: é a solução que enxergamos diante da opção não adequada do legislador em ter preferido focar a propriedade superveniente ao disciplinar a garantia fiduciária sucessiva (capítulo IV.1.5.). 6. O recarregamento, também chamado de extensão, compartilhamento ou refil, da hipoteca ou da alienação fiduciária em garantia de imóveis é admitido como o objetivo de facilitar, do ponto de vista cartorário, a conexão de novas obrigações a uma anterior garantia real imobiliária: basta ato de averbação na matrícula. Não se confunde com hipóteses de meros aditivos contratuais (capítulos IV.2.1., IV.2.3. e IV.2.7.). 7. O recarregamento da

