Contratos e inteligência artificial: informação e compreensão sobre a contratação no PL 2338/23
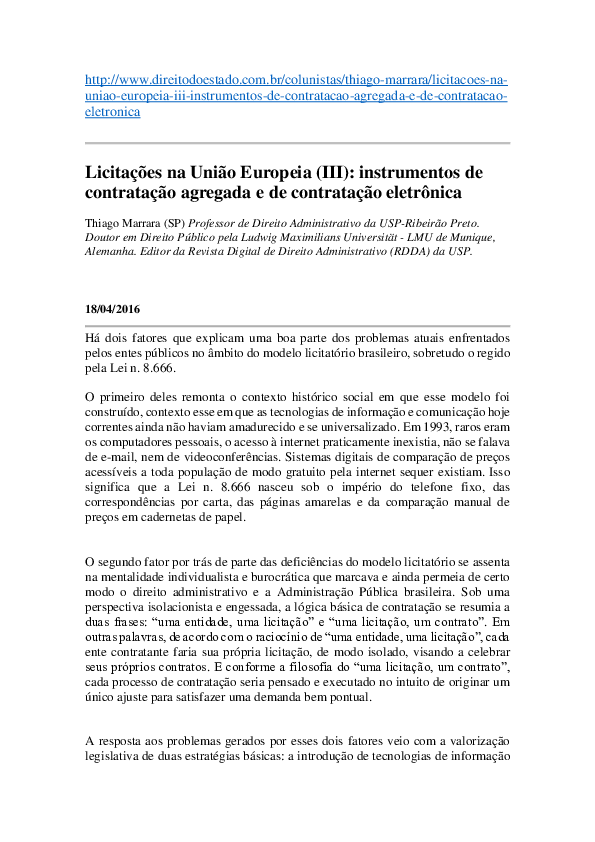
[ad_1] Tema que invariavelmente gera dúvidas e às vezes apreensão é o da contratação pela internet, em especial por conta das dificuldades de compreender a estrutura lógica do negócio virtual digital, seus riscos e os elementos ocultos que estão por trás de uma transação eletrônica. Não se tem como duvidar, no entanto, que tais negócios já fazem parte do cotidiano e que já não é mais possível evitar a participação em negócios pela rede mundial de computadores. Contratos de consumo ou contratos em geral movimentam um sem-número de negócios todos os dias, com compras e vendas, locações, contratação de serviços, inclusive com novas formas de celebrar contratos tradicionais por meio eletrônico, com assinatura digital e a facilitação inclusive de atos públicos pela recente Lei dos Cartórios (lei 14.382/2022) que se tem denominado de Lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos (SERP). Nesse contexto, sabe-se que muitas dessas negociações não têm em ambos os polos pessoas naturais “assinando” as manifestações de vontade, mas, sim, um robô dotado de conhecimento e de informações sobre a vida e os dados do outro contratante. Este é um dos muitos motivos pelos quais surgiu o PL 2.338/2023, de iniciativa do Senador Rodrigo Pacheco, que no art. 1º descreve sua finalidade, de estabelecer “[…] normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de Inteligência Artificial (IA) no Brasil, visando proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico”. O importante Projeto de Lei nasce privilegiado em qualidade e técnica, visto que advém do Ato n.º 4/2022 do Presidente do Senado Federal, que em 17 de fevereiro deste ano incumbiu uma Comissão de notáveis Juristas para subsidiar a elaboração de minuta de substitutivo para os PLs 5.051/2019, 21/2020 e 872/2021, com objetivo de regular o desenvolvimento e a aplicação da Inteligência Artificial no Brasil. A Comissão de Juristas, sob a presidência do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e relatoria da professora Laura Schertel Mendes, contou os seguintes membros: Ana Frazão, Bruno Bioni, Danilo Doneda, Fabrício da Mota, Miriam Wimmer, Wederson Siqueira, Cláudia Lima Marques, Juliano Maranhão, Thiago Sombra, Georges Abboud, Frederico D’Almeida, Victor Marcel, Estela Aranha, Clara Iglesias Keller, Mariana Valente e Filipe Medon. Dentre os muitos temas importantes que o Projeto contempla, no presente texto, pretende-se tratar brevemente dos art. 7º e 8º, que compõem a Seção II, sob o título “Dos direitos associados a informação e compreensão das decisões tomadas por sistemas de Inteligência Artificial”. O interesse existe porque é voz corrente a dificuldade que o leigo tem de conhecer e entender como a Inteligência Artificial toma decisões e/ou adota determinado comportamento nas relações entre o humano e a máquina. Dessa realidade, surge o direito de o contratante receber, previamente à contratação ou à utilização de sistemas, informações claras e adequadas quanto a sete situações, descritas nos incisos do aludido artigo da futura Lei. São eles: I – caráter automatizado da interação e da decisão em processos ou produtos que afetem a pessoa; II – descrição geral do sistema, tipos de decisões, recomendações ou previsões que se destina a fazer e consequências de sua utilização para a pessoa; III – identificação dos operadores do sistema de inteligência artificial e medidas de governança adotadas no desenvolvimento e emprego do sistema pela organização; IV – papel do sistema de inteligência artificial e dos humanos envolvidos no processo de tomada de decisão, previsão ou recomendação; V – categorias de dados pessoais utilizados no contexto do funcionamento do sistema de inteligência artificial; VI – medidas de segurança, de não-discriminação e de confiabilidade adotadas, incluindo acurácia, precisão e cobertura; e VII – outras informações definidas em regulamento. O § 1º ainda determina que, para além do fornecimento de informações de maneira completa em meio físico ou digital aberto ao público, quando a informação a ser obtida for a pertinente ao inc. I, ou seja, sobre o caráter automatizado da interação e da decisão em processos ou produtos que afetem a pessoa, deverá ser fornecida, quando possível, “com o uso de ícones ou símbolos facilmente reconhecíveis”. Em outras palavras, o que se pretende é que a pessoa tenha condições de compreender sobre com quem está lidando e qual o poder que a máquina alcança na relação “interpessoal” em desenvolvimento. Mencione-se, ainda, que o conteúdo do § 2º determina que pessoas expostas a sistemas de reconhecimento de emoções ou a sistemas de categorização biométrica deverão ser claramente informadas sobre a utilização e o funcionamento do sistema no ambiente em que ocorrer a exposição. Caso se trate de pessoas vulneráveis, tais como crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, os sistemas de IA serão desenvolvidos para que estas pessoas consigam entender o seu funcionamento e seus direitos em face dos agentes de Inteligência Artificial. Tudo isso, para tornar realidade os princípios que o Projeto de Lei pretende estabelecer sobre o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de Inteligência Artificial no Brasil, descritos no art. 3º, em especial o constante do inc. VI, da transparência, explicabilidade, intelegibilidade e auditabilidade. A tutela desse direito à compreensão dos sistemas de IA, encontra-se em sintonia com o direito de acesso consagrado no art. 9º da LGPD, uma vez que igualmente garante ao titular de dados obter informações relevantes sobre as operações de tratamento de seus dados pessoais. As mencionadas informações devem ser disponibilizadas de forma clara e satisfatória, acerca de, entre outros aspectos, a finalidade específica do tratamento, sua forma e duração. Como se vê da “Análise Preliminar do PL 2338/2023”, publicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o tema é de grande relevância: Os recentes casos de investigação de aplicações baseadas em IA generativa (por exemplo, os grandes modelos de linguagem – large language models, como o ChatGPT) por autoridades de proteção de dados como a italiana, a espanhola e a canadense, já evidenciam a importância de se assegurar acesso a informações adequadas para o exercício de direitos
Os avanços da adjudicação compulsória extrajudicial após o provimento 150/23 do CNJ

[ad_1] No Direito brasileiro a assinatura de um contrato, por si só, não é capaz de transferir a propriedade de uma coisa. No caso de imóveis, para que a propriedade seja transferida será necessário o registro de determinado título junto à matrícula do bem para que, então, seja reconhecida pelo direito a transmissão da propriedade. Dentro do rol de contratos relativos ao direito imobiliário, assume proeminência aquele da promessa de compra e venda, no qual uma das partes se obriga a pagar o preço e, outra, a outorgar escritura definitiva de compra e venda daquele imóvel objeto do negócio quando a obrigação da parte contrária estiver satisfeita. Voluntariamente ou não, nem sempre as partes cumprem com suas obrigações. Assim como o promitente adquirente pode não vir a realizar todos os pagamentos, pode ocorrer do promitente vendedor deixar de outorgar a escritura de compra e venda definitiva do imóvel. O foco deste breve estudo será a segunda parte da frase acima exposta, isto é, a eventual não outorga da escritura de compra e venda do imóvel objeto daquele contrato preliminar de promessa de compra e venda. A consequência mais comum a este inadimplemento, que na maioria dos casos decorre da parte que está a prometer a venda do bem, é a necessidade de uma adjudicação1 compulsória. A adjudicação compulsória é um instrumento originalmente utilizado pelo direito com o objetivo de transferir, via decisão judicial, um bem de um proprietário a quem de direito, independente da vontade daquele primeiro. Neste sentido, dispõe o art. 1.418 do Código Civil de 2002 que uma vez existindo registro de uma promessa de compra e venda, estando quitado o preço e cumpridas as obrigações pelo promitente adquirente, lhe cabe, em caso de recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de compra e venda, o direito à adjudicação compulsória do imóvel. Muito já se debateu acerca do art. 1.418 do Código Civil de 2002 e a imprescindibilidade de se ter uma promessa de compra e venda registrada junto à matrícula do imóvel para que se pudesse obter o direito à adjudicação compulsória. Tal tema, contudo, esgotou-se com a edição da Súmula 239 do STJ, posteriormente ratificada pelo Enunciado 95 da I Jornada de Direito Civil que assim dispôs: “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”. A matéria assumiu novos contornos quando a lei 14.382/2022 criou o instituto da adjudicação compulsória extrajudicial e incluiu o art. 216-B na Lei 6.015/73. Com isso foi criada a possibilidade de realizar-se a transferência forçada da propriedade, após quitado o preço da promessa de compra e venda, sem a necessidade de ser a promessa de compra e venda registrada junto à matrícula imobiliária ou mesmo de recorrer-se ao Poder Judiciário. Como todo procedimento extrajudicial, para que se possa a adjudicação ser feita fora do âmbito judicial dispôs a Lei 14.382/2002 que, em primeiro lugar, não poderá existir litígio sobre o direito perseguido pelo promitente comprador. Além disso, exigiu o legislador que para a adjudicação compulsória fossem trazidos: i) instrumento da promessa de compra e venda, de cessão ou sucessão; ii) prova do inadimplemento do promitente vendedor que não celebra a escritura de compra e venda após ser notificado pelo cartório de registro de imóveis dentro de 15 dias; iii) ata notarial celebrada por tabelião que conste a identificação do imóvel, dados do promitente comprador, prova do pagamento do preço e caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar a escritura pública de compra e venda; iv) certidões que demonstrem que inexiste litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda objeto da adjudicação; e v) comprovante de pagamento do ITBI. É bem verdade que a nova modalidade de adjudicação compulsória criado pela lei 14.382/2022 tem como escopo facilitar a transmissão da propriedade de bens imóveis para aqueles adquirentes adimplentes que, por qualquer razão, não conseguiram viabilizar a formalização de uma escritura de compra e venda para si. Ocorre que após a edição da supramencionada lei federal verificou-se alguns pontos que poderiam ser interpretados de forma divergente entre registros imobiliários e tabelionatos. Dentre os principais, cito a notificação para constituição do promitente vendedor em mora e a prova do efetivo pagamento do preço por parte do promitente comprador. A título exemplificativo, considerada apenas a regra insculpida no art. 216-B da lei 6.015/73 seria possível compreender que para realizar-se o procedimento precisava o promitente comprador: i) solicitar que o registro de imóveis realizasse a prévia notificação do promitente comprador; ii) certificada a mora pelo registrador, comparecer ao tabelionato para a lavratura da ata notarial; iii) com a ata notarial, retornar ao registro de imóveis para finalizar aquele procedimento outrora iniciado. Para sanar estas divergências de interpretação e impor uma conduta unificada nacional, o CNJ editou o Provimento 150, de 11 de setembro de 2023 que visa padronizar o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial no país. Muito bem elaborado, o Provimento estabelece uma ordem para a realização do procedimento e organiza uma série de questões intrínsecas ao direito notarial e registral. Dentro deste trabalho, verifica-se que foi dada atenção e apresentada solução para aqueles dois pontos principais que poderiam ser interpretados de forma divergente pelos registros imobiliários e tabelionatos: notificação para constituição do promitente vendedor em mora e a prova do efetivo pagamento do preço por parte do promitente comprador. Para o primeira situação, esclareceu o Provimento 150/2023 do CNJ que o inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade previsto no art. 216-B, §1º, III, da lei 6.015/73 não é aquela que consta no inciso II e que deve ser realizada pelo registro imobiliário. Diz-se isso porque ao se observar o que dispõe o art. 440-G, IV, do mencionado Provimento, vê-se que o inadimplemento que deve constar na ata notarial é aquela voltada às providências que deveriam ter sido tomadas pelo requerido do procedimento para a transmissão da propriedade e foram inadimplidas. Assim, tem-se que já por esta razão de extrema utilidade o Provimento porque
Objeções à suposta inaplicabilidade jurídica do inadimplemento eficiente (efficient breach) no Brasil
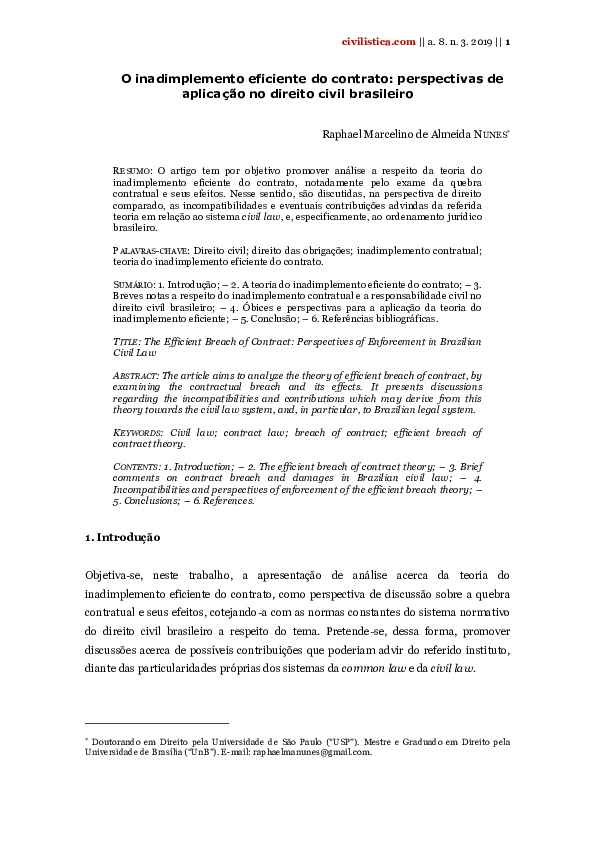
[ad_1] Introdução É de conhecimento geral no mundo jurídico que o inadimplemento obrigacional pode se dar tanto totalmente quanto parcialmente, sendo que a diferença entre ambos é, essencialmente, a utilidade da obrigação para o credor – se não há mais interesse do credor no cumprimento da obrigação, trata-se de inadimplemento total (ou absoluto), enquanto que, se ainda há interesse por parte do credor, o inadimplemento é considerado parcial. A aparente dualidade entre o inadimplemento total e o inadimplemento parcial, no entanto, não alcança todas as situações de não cumprimento das obrigações. Uma delas é o inadimplemento eficiente, que será abordado neste breve trabalho. O ponto de partida Juliana Krueger Pela define inadimplemento eficiente (efficient breach) como a situação em que os custos que o devedor tem para cumprir uma prestação excedem o benefício do credor em ter a prestação adimplida. Assim, sempre que isso acontecesse, o não cumprimento da obrigação seria economicamente eficiente e o inadimplemento deliberado estaria autorizado. Em seu trabalho “Inadimplemento Eficiente (Efficient Breach) nos Contratos Empresariais“, Juliana Kruger Pela (i) expõe alguns casos concretos em que se verifica o problema do inadimplemento eficiente, (ii) demonstra possíveis soluções jurídicas para tal situação, (iii) aborda os obstáculos legais à sua aplicabilidade no Brasil e, por fim, (iv) critica a unificação do direito contratual positivo brasileiro, que teria feito com que esses obstáculos legais incidissem indistintamente sobre os contratos cíveis e empresariais. Entendemos que a crítica feita à unificação é merecida. E, para que isso fique claro, convém analisar se os obstáculos legais à aplicação da teoria do inadimplemento eficiente no Brasil subsistem à análise teleológica de dois princípios basilares da teoria geral dos contratos: o princípio da boa-fé e o princípio da função social. A boa-fé como garantia de um contrato empresarial eficiente Dentre os obstáculos à utilização do conceito de inadimplemento eficiente no Brasil, o primeiro que chama atenção é a cláusula geral da boa-fé (Art. 422 do Código Civil). A ideia é que a boa-fé não se harmonizaria com o inadimplemento deliberado, uma vez que esta impõe às partes contratantes o dever anexo de cooperar para a execução do contrato. Ocorre que outro dever anexo ínsito à boa-fé é o de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio, “[…] esclarecendo os fatos relevantes e as situações atinentes à contratação, procurando razoavelmente equilibrar as prestações […]” (AZEVEDO, p. 29, 2019), e, nesse ponto, a crítica à unificação do direito contratual positivo brasileiro começa a fazer sentido. Se o intérprete considerasse as diferenças entre os contratos cíveis e empresariais, especialmente no que tange à alocação de riscos e objetivos, chegaria à conclusão de que, nos contratos empresariais, o dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio auxilia na avaliação que ela fará sobre os riscos desse negócio e sobre seus impactos no mercado. Isso, sem dúvida, é cooperar na execução do contrato, até porque a boa-fé objetiva “exige que as partes atuem de modo a garantir obtenção, por ambas, do resultado útil programado” (PEREIRA, p. 21, 2020). Nesse contexto, portanto, um inadimplemento eficiente pode se tornar vantajoso para uma das partes, ou para ambas, sem violar a boa-fé objetiva. Basta, para isso, que o cálculo feito pela parte contratante para saber o que fica mais caro (cumprir ou não cumprir o contrato) parta das informações sobre o conteúdo do contrato prestadas pela outra. Função social e inadimplemento eficiente como instrumentos para a preservação de direitos coletivos Se a cláusula da boa-fé não é obstáculo à aplicabilidade do inadimplemento eficiente no Brasil, menos ainda o é a cláusula da função social (Art. 421 do Código Civil). A premissa é a de que, quando exercida nos limites da função social, a liberdade de contratar deixa de focar apenas nas pretensões individuais dos contratantes e se torna um instrumento de preservação de interesses coletivos, já que “o contrato não pode ser mais concebido como uma bolha que envolve as partes […]” (TARTUCE, p. 100, 2017). Como dito anteriormente, antes de celebrar um contrato empresarial, as partes contratantes avaliam os riscos e os impactos do contrato no mercado. Se elas fazem essa avaliação, o que está em jogo não é apenas uma pretensão subjetiva entre os contratantes, mas também uma disputa entre ambos os contratantes e os demais agentes econômicos do mercado. Ao interpretar o contrato dessa maneira, o intérprete faz uso da cláusula da função social, pois este princípio “[…] funciona como uma agulha, forte e contundente, que fura a bolha […]” (TARTUCE, p. 101, 2017). Portanto, escolher inadimplir deliberadamente um contrato empresarial, nesse contexto, pode ir além de proporcionar vantagens para os agentes econômicos contratantes. Essa escolha pode proporcionar vantagens a consumidores, por exemplo, na medida em que inadimplir pode fazer com que um agente econômico fuja da onerosidade excessiva e, com isso, consiga se posicionar melhor no mercado diante de outro agente econômico. A rapidez, a agilidade e o dinamismo característicos dos contratos empresariais, aliás, têm o objetivo de evitar a onerosidade e a lesividade (MARTINS, p. 447, 2015). Além disso, no direito empresarial, a esperteza e a sagacidade dos agentes econômicos são presumidas (FORGIONI, p. 119, 2016). Logo, a pergunta que fica é: não é ágil e sagaz o devedor que escolhe não cumprir um contrato por perceber que o custo para o seu cumprimento é superior à vantagem que ele proporcionará para o credor, economiza com isso, e consegue concorrer com outros agentes econômicos, baixando os preços de determinado produto ou serviço? Entendemos que sim. E entendemos também que essa sagacidade atende muito bem à função social dos contratos empresariais, justificando novamente a crítica feita por Juliana Kruger Pela à unificação do direito contratual positivo brasileiro. Afinal de contas, são nos contratos empresariais que os interesses concorrenciais se manifestam e “se um dos fundamentos do bem-estar do consumidor é sua liberdade de escolha entre várias opções diferenciadas […] não há como considerar uma regra aplicada explicitamente com o objetivo de proteger a competição ‘ineficiente’ do ponto de vista do consumidor” (SALOMÃO FILHO,
A utilização da inteligência artificial nos contratos de consumo: há muito o que discutir!

[ad_1] As mudanças tecnológicas agem como um relevante vetor de alteração da dinâmica social e que, junto a outros fatores, posicionam as sociedades contemporâneas em uma outra fase. Assim sendo, não se pode deixar de considerar o impacto que a tecnologia tem causado nas mais diversas áreas. A propagação no uso das tecnologias de comunicação e informação tem aferido mudanças nas relações sociais, nos processos comerciais e organizacionais, nos sistemas de gestão, na educação, e não seria diferente com a área jurídica, notadamente, as relações negociais. No contexto atual, são inúmeros os contratos utilizados para aquisição de produtos e serviços que podem ser realizados por meio de diversas ferramentas tecnológicas. Vivencia-se a denominada Quarta Revolução Industrial, sendo inegáveis as transformações, quase que instantâneas, trazidas pela utilização da tecnologia. Expressões como “Tecnologia 4.0″, ‘Industria 4.0”, “Direito 4.0” e “Artificial General Intelligence – AGI” são utilizadas para caracterizar essa nova fase. Assim, os dispositivos tecnológicos estão sendo desenvolvidos para se tornarem capazes de operar utilizando uma lógica semelhante ao raciocínio humano, conferindo-lhes certa aptidão para analisar dados, entender e solucionar problemas e, em alguns casos, direcionar a tomada de decisão. Na década de 1950, o conceito de inteligência artificial foi criado por John McCarthy, cientista da computação, que a definiu como sendo a projeção de uma rede computacional desenvolvida para executar um conjunto definido de ações. Nessa mesma década, Alan Turing apresentou produções científicas individuais que indicavam poder ser a máquina programada para aprender por meio da imitação da inteligência humana. Assim, a inteligência artificial é um termo amplo que abrange tecnologias desenvolvidas para que as máquinas (ou algoritmos) possam, partindo de dados obtidos, construir raciocínios mais assertivos e rápidos, levando a predições que subsidiam a tomada de decisão. Em algumas situações, observa-se que o nível de sofisticação da tecnologia permite inclusive que a máquina “analise” uma situação e conduza a uma “solução”, mais célere e assertiva, a partir do cruzamento de dados. A evolução tecnológica disponibiliza dispositivos dotados de sistematização de informações que se assemelham a atividades humanas como “pensar”, “interpretar”, “raciocinar”. Com as informações recebidas, os sistemas que integram a I.A podem, fazendo um caminho semelhante ao utilizado pelo cérebro humano, através de uma rede neural formada por “neurônios artificiais”, escrever um texto científico, redigir um contrato, influenciar pessoas para realizarem compras de um determinado produto ou contratarem um serviço. Em paralelo, discute-se sobre a proteção de dados pessoais e como é necessária a regulamentação quanto ao uso da I.A. A tecnologia vem sendo utilizada, por exemplo, para avaliar, a partir de dados coletados em diversas bases, a vida financeira de um indivíduo. A partir dessa avaliação, decide-se se determinado indivíduo deve receber um empréstimo de instituição financeira ou não, inclusive com taxas de juros personalizadas. Ou seja, a avaliação de risco de inadimplência deixa de ser de um ser humano, no caso, o gerente da instituição, e passa a ser de um sistema. As transformações trazidas pela I.A. exigem que seja realizada uma análise apurada por parte do direito contratual, do direito consumerista e da responsabilidade civil. As suas consequências ainda estão sendo observadas e não podem ser previstas com precisão, apesar de haver normas jurídicas que podem ser utilizadas na proteção do consumidor vulnerável. A modernização traz consigo o risco da ocorrência de danos pouco conhecidos ou totalmente desconhecidos. De acordo com Miragem (2019, p. 15) é “… comum às atividades associadas à tecnologia da informação e sua multifacetada e crescente utilização para uma série de finalidades, a identificação de novos riscos”. O direito civil constitucional possui uma substancial base principiológica, utilizando-se dos valores e princípios constitucionais, como os da liberdade, igualdade, boa-fé, informação, precaução, reparação integral dos danos, entre outros, para orientar as relações no âmbito privado. A importância da constitucionalização do direito civil dá-se pela implementação da denominada sociedade de risco. O contrato eletrônico de consumo é um tipo de contrato elaborado e executado por um sistema de software. A inteligência artificial faz uso de técnicas de reconhecimento de padrões e correlações significativas para alavancar o comércio. Afirma Lee (2019, p.251) que “quando a força criativa e destruidora da IA está sendo sentida ao mesmo tempo no mundo todo, precisamos olhar uns para os outros em busca de apoio e inspiração”. Ou seja, todos precisam aprender como lidar com essa nova realidade e as suas consequências, o que inclui a existência de danos. No direito consumerista há princípios que garantem a proteção do consumidor e, eventualmente, de terceiros que não estejam diretamente envolvidos na relação contratual contra os riscos que porventura possam existir. As relações negociais podem e devem se valer dos princípios e regras contidos no Código Civil quando assim for necessário, Portanto, os princípios comuns a ambos os regimes, em razão da vocação normativa que cada um ostenta, sofrem a calibração das exigências valorativas, cujo resultado é a variação de intensidade de sua aplicação e nas regras que criam à hipótese fática. … O ponto de toque entre o direito civil e o direito do consumidor é a seara contratual, ou melhor dizendo, as relações negociais. Pieroni, 2021, p. 52 O consumidor, parte vulnerável da relação, não tem a exata compreensão dos riscos advindos desta era digital, que transformou a forma como os contratos são realizados. Esta modificação acarreta a necessidade de uma interpretação das normas jurídicas já existentes, como o Código de Defesa do Consumidor, adequando a realidade transacional tecnológica. De acordo com Divino (2021, p.660) Da amplitude e da efetividade das garantias asseguradas pelo CDC aos vulneráveis, a possibilidade de que a sociedade da informação se desenvolva para com os entes inteligentes artificialmente é uma tarefa a ser pautada e evidenciada pelos juristas. Nesse momento, deve-se percorrer ao exame das principais atribuições que envolvem os ganhos e riscos para a utilização dessas tecnologias. Deve-se refletir, conscientemente, sobre os interesses e verificar em quais casos poderá o CDC atuar para a defesa dos direitos lesados. Várias relações contratuais são realizadas entre o homem e a máquina. Mas será que o consumidor possui

